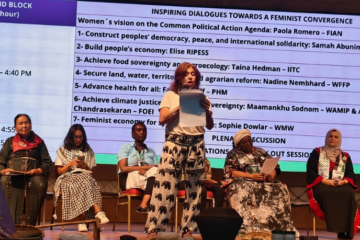Ao longo deste século, na América Latina, passamos da construção de processos de transformação sem precedentes para momentos muito difíceis de regressão e destruição. A economia feminista em nossa região cresceu e consolidou uma visão sistêmica que confronta essa realidade, fazendo parte da geração de pensamento e movimento, de múltiplas iniciativas tanto de resistência como de alternativas. Assim, quando falamos de mulheres e economia feminista, não estamos falando de um setor, de uma parcela de algo, mas do sistema como um todo.
Nessa visão sistêmica que fomentamos, aparece nitidamente uma noção ampliada de vida como central. Compreendemos a vida como um sistema integral e como uma categoria analítica que se refere às dimensões materiais e relacionais, que por sua vez são o eixo da economia. É um sistema integral do qual fazemos parte, onde somos interdependentes e onde os fluxos de cuidado são essenciais, assim como os princípios de diversidade, colaboração e complementaridade. A vida implica coevolução, uma dinâmica complexa de condições que foram criadas e recriadas ao longo da história.
Nessa trajetória, as mulheres desempenharam papéis fundamentais que hoje são reconhecidos e emergentes, mas que por muito tempo foram desvalorizados ou ignorados. O trabalho de reprodução e de cuidados, a agricultura e os rituais, por exemplo, expressam essa relação entre a natureza e os conhecimentos das mulheres sobre os processos de vida. Ao enfatizar essa perspectiva, torna-se necessário repensar a relação entre cultura e natureza, que é uma das dimensões-chave na interpretação dos sistemas de sexo-gênero.
Segundo uma perspectiva feminista mais ocidental, um dos princípios seria dissociar as mulheres da natureza para mostrar que tanto sexo quanto gênero são construções culturais. Política e analiticamente, isso é importante e continua sendo uma ferramenta fundamental. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, reinterpretamos o sentido de que a natureza não é uma exterioridade, não é algo que existe lá fora enquanto os seres humanos estão aqui. Sendo parte dela, vemos como a natureza é uma coconstrução da vida. Nela, nós, mulheres, somos natureza. Devemos revelar isso, não no sentido fundamentalista de nos atribuirmos papéis, mas no sentido dessa riqueza de trabalho, de ritual, de poesia, de tudo o que historicamente esteve envolvido na cocriação e na sustentação da natureza – e agora, no desafio de recuperá-la e restaurá-la.
Há outras questões para repensar, rediscutir e alimentar com a riqueza das experiências e reflexões coletivas. Uma das questões fundamentais no devir da economia feminista nos últimos anos tem sido a identificação do fenômeno da mercantilização da vida. Aqui, quero convocar a memória sempre viva de Nalu Faria, com quem, no início do século, abordamos essa questão. Para falar sobre desmercantilizar, precisamos entender como a mercantilização ocorreu, até onde chegou e qual é a ameaça que representa.
Quais processos levaram à mercantilização? E como vamos desativá-la?
A implementação de um mercado total na América Latina ocorreu por meio de ajustes neoliberais, nos quais os processos de geração de bens e serviços e as condições de vida foram cooptados, absorvidos pelo mercado. A economia não é apenas o que é monetizado ou mercantilizado. A economia é o conjunto amplo de produção, reprodução, serviços, relações, com ou sem dinheiro envolvido. É a criação não apenas de mercadorias, mas também de bens e relações, de condições de vida.
Um dos pilares da economia feminista é compreender a totalidade e as inter-relações que ocorrem entre essa economia de mercado ou mercantilizada e essa outra economia que assume diferentes formas em nossos países. Na América Latina e na África, o sistema capitalista hegemoniza e busca dominar outras formas de produzir, outras formas de propriedade e de relação comunitária e de vizinhança. A partir dessas formas e práticas, nas quais as mulheres são maioria, podemos pensar a possibilidade de transformar o sistema.
Acreditamos que uma das chaves para a desmercantilizar reside precisamente no que já existe: práticas e relações distintas do capitalismo. Mesmo que sejam dominadas e subjugadas, elas resistem. Preservar isso não é apenas fundamental no futuro imediato, para gerar um cuidado de amplo alcance, mas também é a chave para a transição. Só podemos avançar em direção a algo diferente se conseguirmos manter, controlar e expandir as possibilidades de produção e reprodução hoje. Se perdermos isso, como faremos a transição? Como confrontamos os poderes oligárquicos universais que agora nos dominam?
A magnitude do poder que está sendo implantado agora é imensa e nos deixa quase desorientadas. Mas onde podemos começar a transformar, senão a partir do que podemos controlar em termos de geração de condições de vida?
A mercantilização que vivenciamos nas últimas décadas buscou eliminar diversas formas de trabalho e internalizar visões, por exemplo, do chamado empoderamento feminino. A constatação agora é que até mesmo visões feministas neoliberais foram incorporadas, algo que parecia impossível no início do século. O sistema nos vende a ideia de que, para escapar da dominação, precisamos recorrer ao mercado capitalista, ter emprego e renda sob um esquema de relação de salário de dependência, como a chave para nossa emancipação. Muitas vezes, isso não significa passar da “inatividade” econômica para a “atividade” econômica, mas sim substituir formas de trabalho e produção. Por exemplo, quando uma mulher deixa uma economia familiar e camponesa para trabalhar como vendedora de supermercado, suas formas anteriores de produção, conhecimento e expertise são anuladas.
O ataque à diversidade econômica e a imposição de aspirações por um modelo econômico capitalista único são outros desafios. Como pensamos em trabalho digno com direitos sob fórmulas de diversidade econômica? Como podemos gerar outras condições nos lugares onde não há emprego nem proteção social formal? É um desafio para nós e para a política pública gerar abordagens alternativas que ampliem as definições de direitos para abranger condições de realidade social e econômica diferentes.
A mercantilização da vida implicou na transformação de necessidades em mercadorias. Como posso satisfazer minha necessidade? Tendo dinheiro para comprar uma mercadoria. Essa é a visão que está sendo promovida, e as necessidades como direitos são distorcidas. Eva Perón, há mais de 70 anos, formulou a premissa “onde há uma necessidade, nasce um direito”. Essa interessante premissa, que se antecipou ao discurso das Nações Unidas naquela época, não é agora atacada por Milei gratuitamente. Em suma, uma série de mecanismos de poder corporativo foi construída, internalizando uma visão, valores e práticas para o processo de mercantilização.
A concentração do capital e a riqueza em níveis sem precedentes expressa a amplitude do neoliberalismo em nossos países latino-americanos. Isso está diretamente ligado à expansão da lógica empresarial como a ideal para a economia e a sociedade, um fenômeno impulsionado globalmente por diversas vias. Há análises retrospectivas e históricas que mostram como os Estados Unidos vêm construindo a ideia dos negócios como a chave, a célula ideal da sociedade. Sua contrapartida foi a destruição de várias formas de propriedade, produção e trabalho, projetando que o que é bom é o que está disponível no mercado. A expansão do mercado em direção à reprodução da vida é uma captura da pergunta sobre como satisfazer as necessidades.
Há muitos anos, quando se davam discussões sobre o tema das unidades domésticas, do trabalho domésticos e da alimentação, falava-se do sonho de uma casa sem cozinha, vista como o reduto da opressão para mulheres condenadas a cozinhar. Ter uma casa sem cozinha era libertador. Agora, esse sonho pode se tornar realidade, mas em termos de captura de mercado, por meio da mercantilização extrema. Tudo está em disputa. É impressionante como o mercado conseguiu capturar certas formulações que vinham de uma visão antissistêmica, reformulá-las e nos dar uma nova perspectiva aterradora.
Outro elemento relevante é a pilhagem de recursos e o cerco aos direitos e às condições de vida das populações empobrecidas. O processo que vivenciamos nas últimas décadas dá origem a êxodos em massa, a fenômenos migratórios críticos e à escalada de economias mafiosas. Tudo isso tem uma lógica comercial, uma deterioração das noções de vida e sociedade e um deslocamento e reestruturação da subjetividade.
Ao mesmo tempo, e diante dessas tendências dominantes, as experiências progressistas que vivenciamos nas últimas décadas nos deixaram um acúmulo de experiências. A partir da economia feminista, tivemos o desafio de expandir nossas análises e propostas para posicionar a vida como a pedra angular de todas as políticas macroeconômicas, setoriais e locais.
No que podemos chamar de “décadas progressistas”, propusemos outro sistema, vislumbramos o “bem viver” como sistema alternativo. No caso equatoriano, em termos econômicos, ele se expressou como um sistema econômico social e solidário. Esses foram passos extremamente importantes para experiências que então se articulavam em redes de economia social e solidária, cooperativas e soberania alimentar. Tudo isso convergiu nas políticas públicas, nas propostas, nas constituições, e é um legado que não podemos abandonar, um legado que devemos manter como um escudo contra o ataque que estamos vivenciando agora, posicionando-o como uma possibilidade para o futuro.
Que agenda nos ajudará a navegar nessas águas turbulentas?
Um primeiro elemento tem a ver com projetar uma economia de reprodução ampliada da vida em contraste com a reprodução ampliada do capital. Isso implica redefinir a matriz produtiva e energética e eliminar o extrativismo, a exploração, as desigualdades e a destruição. São questões de escala. Às vezes, as economias alternativas permanecem muito presas a termos micro – comunitários, locais –, mas precisamos enxergar as coisas nos níveis global, regional e nacional. Pequenas soluções, se projetadas como agregadas, podem promover mudanças.
É claro que devemos defender a economia do cuidado, mas não de forma mercantilizada. A economia do cuidado já ultrapassou um limiar de reconhecimento; em grande medida, a visibilidade já foi amplamente conquistada. A questão é como garantir que ela seja projetada e consolidada em termos não mercantilizados. Uma questão muito importante é a defesa do Estado e da esfera pública, que é condição para o reconhecimento, a redistribuição e o exercício de direitos. Se a esfera pública for destruída, nossa noção de reivindicação e garantia de direitos não terá mais referente. Não podemos nos ater apenas a noções de comunidade — que, como as demais, também estão sendo capturadas. De que comunidade estamos falando? Qual é o seu alcance? Como nos diferenciamos das comunidades capturadas?
Precisamos de uma visão diferente de empoderamento econômico que não esteja ancorada em soluções de mercado. Para isso, é importante ter visibilidade e reconhecimento da contribuição histórica das mulheres, do que fazemos e do seu potencial transformador.
A economia feminista cresceu e tem o potencial de confluir nas buscas pela construção de outros sistemas. Essa é uma capacidade que vem da experiência. Nós, mulheres, fazemos economia de forma diferente, com outra bagagem, com outros conhecimentos. Temos uma agenda enorme pela frente de releitura, de reinterpretação, de pensar juntas sobre tópicos-chave para avançar um pouco mais em nossa agenda. Caso contrário, às vezes sentimos que ainda estamos na mesma página. E este é o momento de dar um salto qualitativo e ir mais longe.
Magdalena León é economista feminista e integrante da Rede de Mulheres Transformando a Economia (Remte) no Equador. Este artigo é uma transcrição editada de sua apresentação no webinário “Construindo propostas para a economia feminista e a justiça ambiental”, organizado pela Amigos da Terra Internacional, Marcha Mundial das Mulheres, Capire e Rádio Mundo Real em 15 de julho de 2025.